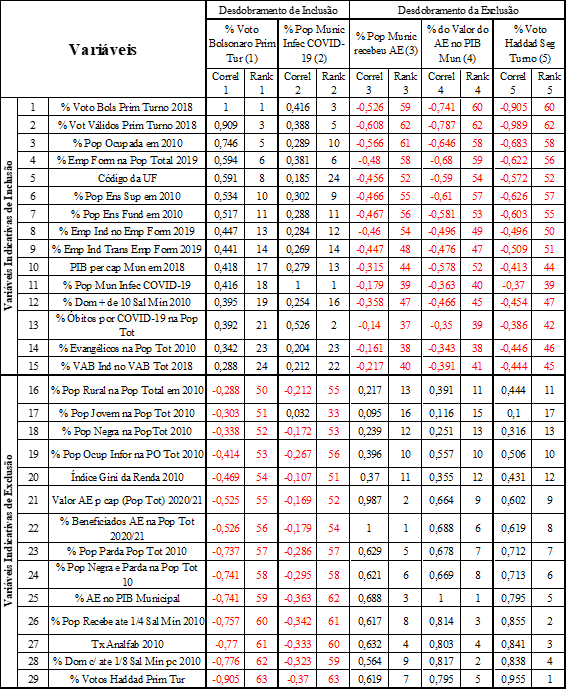Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA & ALLAN LEMOS ROCHA*, para aterraeredonda.com.br.
As (co)relações perigosas entre bolsonarismo, COVID-19 e Auxílio emergencial
As determinações da relação entre COVID-19 e bolsonarismo
Ao longo de 2020 e 2021, foram realizadas e divulgadas um conjunto de
pesquisas acerca da relação entre voto em Bolsonaro e contaminação por
Covid. As pesquisas revelavam uma relação positiva entre bolsonarismo e
contágio e ganharam ampla divulgação em revistas científicas, na grande mídia e em blogs
críticos ao governo. A despeito das diferenças no tamanho e
representatividade das amostras, bem como nas metodologias das distintas
pesquisas, a dimensão e significância das correlações deixavam pouca
margem para dúvidas acerca da existência da referida relação.
Análise de correlação, porém, não é análise de causalidade e nos
parecia precipitada a conexão teórica que parcela expressiva dos
pesquisadores (e a grande maioria dos jornalistas) propunham entre estas
duas variáveis. Como regra geral, a hipótese aventada era a de que os
eleitores e apoiadores do Presidente Bolsonaro subestimariam a
periculosidade da pandemia em curso, o que se desdobraria no relativo
relaxamento do distanciamento social e demais práticas de resguardo
capazes de deprimir o contágio.
A hipótese que estruturou nossa pesquisa era discretamente distinta.
Parecia-nos evidente que o “negacionismo” – tão difundido entre os
apoiadores e seguidores de Bolsonaro – cumpria um papel relevante na
promoção da contaminação. Porém, duvidávamos que este elemento, por si
só, pudesse explicar a elevada disparidade do percentual de contaminação
entre os milhares de municípios brasileiros[i].
Parecia-nos que, para além do negacionismo, variáveis, de caráter mais
“estrutural” deveriam estar por trás de diferenciais de incidência tão
elevados. Mais: acreditávamos que as variáveis estruturais
corresponsáveis pela elevação da taxa de incidência da COVID-19 também
pudessem contribuir para a compreensão do perfil socioeconômico e
cultural do típico eleitor de Bolsonaro.
Na tentativa de testar esta nossa hipótese, criamos um banco de dados
com 103 variáveis para os 5.569 municípios brasileiros mais o Distrito
Federal, gerando 5.570 municípios. Entre estas variáveis, 60 são dados
brutos, com informações geográficas, demográficas, econômicas, políticas
e socioculturais das mais diversas fontes oficiais, em especial do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), do Ministério da Cidadania (MC), do Ministério
da Saúde (MS-DATASUS), da Relação Anual de Informações Sociais do
Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS-MTE), dentre outros órgãos.
Por sua vez, os dados brutos foram apropriados e transformados em 69
indicadores de base municipal. Como regra geral, estes indicadores foram
relativizados (ou normalizados) pela população domiciliada no
município; ou são taxas de variação do PIB, distintos VABs, ocupação
formal, etc. Os indicadores foram agrupados em cinco classes: (1)
alinhamento político da população (ex.: participação percentual do voto
em Bolsonaro ou em Haddad no primeiro e no segundo turno das eleições de
2018); (2) estrutura econômica do território (ex.: PIB per capita em
2018; participação do emprego industrial formal no emprego formal total
em 2019; participação dos formalmente empregados na população total do
município em 2019; relação entre ocupados formais e ocupados totais em
2010; etc.); (3) estrutura sociocultural local (ex.: participação da
população negra, evangélica, analfabeta, com ensino superior completo na
população total em 2010); (4) impacto da pandemia na saúde global (ex.:
percentual de contaminados e de óbitos por COVID-19 na população total
em 2020); e (5) cobertura assistencial (ex.: percentual de pessoas
beneficiadas com Auxílio Emergencial – doravante, AE – na população
total; relação entre o valor total do AE recebido em um município entre
maio de 2020 e abril de 2021 e o PIB municipal em 2018).
As diferenças nas datas dos dados e indicadores estão referidas à
disponibilidade de dados. Os dados socioculturais, por exemplo, estão
baseados no mais recente Censo Demográfico, que data de 2010; o PIB
municipal é calculado com defasagem de três anos com relação ao PIB
nacional. Como as variáveis são de caráter estrutural, acreditamos que
as mudanças ocorridas ao longo do período tenham sido pouco expressivas.
O Banco de Dados construído por nós encontra-se disponível aqui para a utilização e/ou averiguação de eventuais interessados.
Resultados básicos: dois Brasis em disputa
Os resultados que encontramos não apenas comprovaram nossas hipóteses
iniciais como trouxeram à luz novas dimensões do “campo”
político-eleitoral do bolsonarismo e acerca dos desdobramentos
econômicos, políticos e sanitários do Auxílio Emergencial. Na verdade,
alguns dos resultados alcançados são tão contra intuitivos que,
aparentemente, geraram dúvidas a respeito da consistência dos testes que
realizamos[ii].
Quadro 1: Correlações Selecionadas entre Indicadores Socioeconômicos Estruturais,
Voto em Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Incidência de COVID-19 e Auxílio Emergencial
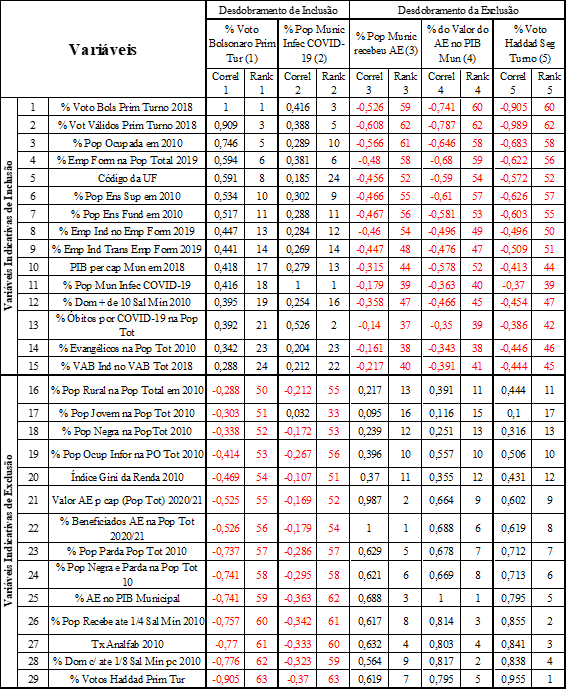 FDB: IBGE, RAIS-MTE, Datasus, Min. Cidadania, TSE
FDB: IBGE, RAIS-MTE, Datasus, Min. Cidadania, TSE
As 29 variáveis-indicadores de cada uma das linhas do Quadro 1 acima
estão ordenadas em função das suas correlações com o voto em Bolsonaro
no primeiro turno das eleições de 2018. A coluna “Rank1” corresponde ao
ordenamento das correlações: quanto menor o valor do Rank1 (primeiro,
segundo, etc.) maior a correlação, e vice-versa. Nem todas as variáveis
testadas estão representadas no Quadro 1. Extraímos variáveis com
elevada auto-correlação (voto em Bolsonaro no primeiro e no segundo
turno, por exemplo), bem como as variáveis com correlação próxima de
zero e/ou de baixa confiabilidade (significância). A significância de
todas as correlações apresentadas é inferior a 0,01%. Posto isto, nas
linhas superiores encontram-se aquelas variáveis-indicadores que
apresentam uma relação fortemente positiva e significativa com o voto em
Bolsonaro. Na medida em que “descemos” em direção à base do Quadro 1 as
correlações caem, tornando-se fortemente negativas.
Como era de se esperar, a relação anunciada em diversas pesquisas
entre voto em Bolsonaro e incidência de COVID-19 é confirmada. Se
abstraímos as duas correlações tautológicas (correlação da taxa de
contaminação consigo mesma e com óbitos por COVID-19), tomando apenas as
variáveis rigorosamente independentes, o voto em Bolsonaro nos dois
turnos emerge como a variável com maior poder explicativo dos
diferenciais de taxa de contaminação municipal: quanto mais elevada a
percentagem de voto em Bolsonaro em 2018, maior a percentagem de
população contaminada (correl 0,416, sig 0,0000). Do nosso ponto de
vista, o fato desta correlação despontar em primeiro lugar demonstra a
existência de um componente político-ideológico autônomo – expresso no
negacionismo – que exponencia o contágio em função da resistência ao
distanciamento social, à vacinação e aos cuidados de higiene necessários
ao controle e depressão do fator de difusão do vírus. Em suma: nossos
testes corroboram plenamente os estudos referidos realizados
anteriormente.
De outro lado, nossos testes também comprovam que a relação entre
COVID-19 e Bolsonarismo transcende – e muito! – a dimensão estritamente
ideológica. Tomemos a terceira e a quarta linhas do Quadro 1. O que elas
nos dizem é que, quanto maior a percentagem de população ocupada
(formal ou informalmente, dados do Censo) em 2010 e quanto maior a
percentagem da população formalmente ocupada em 2019 (dados da RAIS-MTE )
na população total dos municípios: (1) maior o voto em Bolsonaro; (2)
maior a incidência de COVID-19; (3) menor a percentagem dos munícipes
que receberam Auxílio Emergencial; (4) menor a expressão relativa do
valor total do AE em comparação com o PIB municipal; e (5) menor o
percentual de voto em Haddad no segundo turno das eleições
presidenciais.
E o mais importante de tudo: esta série de relações – mais Bolsonaro,
mais Covid, menos AE e menos Haddad – persiste e se reafirma
monotonicamente para todas as 15 variáveis que, de alguma forma,
traduzem inclusão social. Assim é que os municípios com melhores índices
educacionais, com maior número de empregados formais na população
total, de maior PIB per capita, com maior número de famílias que recebem
acima de dez salários mínimos tenderam a votar em Bolsonaro e a
apresentar taxas de contaminação acima da média.
Dentre estas variáveis de inclusão uma em particular merece atenção:
os municípios mais industrializados, com maior número de empregados na
Indústria de Transformação – vale dizer, onde o operariado é
relativamente mais expressivo – e com uma maior participação da
Indústria no PIB municipal seguiram a mesma regra: votaram
preferencialmente em Bolsonaro, apresentaram índices mais elevados de
contaminação, receberam uma percentagem menor de AE e, como regra geral,
não votaram em Haddad no Segundo Turno. Vale observar também a variável
“Código da Unidade da Federação (UF)”. O sistema de códigos do IBGE é
tal que os municípios da Região Norte iniciam com o número 1, da Região
Nordeste com o número 2, da Região Sudeste com o número 3, da Região Sul
com o número 4 e da Região Centro-Oeste com o número 5. O “Sul
Maravilha” e o Cerrado do Agronegócio foram as bases eleitorais de
Bolsonaro e, simultaneamente, foram as regiões que apresentaram maiores
incidência de COVID-19; enquanto as Regiões Norte e Nordeste (com código
menor) foram (como regra geral aberta a exceções) os principais redutos
eleitorais de Haddad e os territórios com maior percentual de pessoas
beneficiadas om AE em 2020.
Por fim, há uma variável que ajuda a montar um quadro geral de grande
poder explicativo: o voto em Bolsonaro apresenta uma correlação
positiva com o grau de urbanização (população urbana / população total).
No Quadro 1, esta correlação está apresentada na décima sexta linha
pelo seu oposto (grau de ruralidade = população rural / população
total), e se evidencia uma correlação negativa (-0,288) entre voto em
Bolsonaro e grau de ruralidade. Mas este resultado é a “versão
espelhada” de uma correlação positiva entre este mesmo voto com o grau
de urbanização (0,288). Ora, quanto mais urbano e industrial é um
município e quanto maior a percentagem da população ocupada em
atividades formais (emprego com carteira assinada e funcionários
públicos) maiores são as dificuldades para a manutenção do
distanciamento social. Por oposição, quanto mais rural, agrícola e
informal é a economia de um município, tanto mais fácil manter um
distanciamento mínimo. Especialmente em função da elevada cobertura do
Auxílio Emergencial. E, não gratuitamente, as variáveis-indicadores de
cobertura do AE (colunas 3 e 4) também apresentam correlação positiva
com “grau de ruralidade” (correl 0,217 e 0,391, respectivamente) e com
informalidade no emprego (variável 19, correl 0,396 e 0,557).
Observemos mais atentamente, agora, a base do Quadro 1 (da linha 16
para baixo). Emerge, ali, a troca de sinais das correlações entre as
variáveis nas colunas 1 e 2 (voto em Bolsonaro e incidência de COVID),
que passam a ser negativas, e entre as colunas 3, 4 e 5 (cobertura do
auxílio emergencial e voto em Haddad), que passam a ser positivas. O
principal determinante desta mudança é que as variáveis listadas na base
do Quadro 1 são variáveis indicativas de exclusão social relativa; e,
por isto mesmo, estão referidas àquela parcela da população que
ingressou de forma expressiva no Orçamento Federal durante os governos
do PT. Objetivamente, o que o Quadro 1 nos informa é que a % de voto em
Bolsonaro será tanto menor (e % do voto em Haddad será tanto maior)
naqueles municípios onde for maior: (1) a % de domiciliados no campo
(por oposição a meros proprietários rurais com domicílio urbano); (2) a %
da população com menos de 35 anos de idade (segmento onde o desemprego e
a informalidade são mais elevados); (3) a % de negros e pardos (que só
passam a se beneficiar de uma política especificamente étnico-racial de
inclusão a partir das políticas de cotas); (4) a % de analfabetos
(parcela da população com maior dificuldade de inserção no mercado
formal de trabalho); (5) a % de pobres (com renda per capita inferior a
um salário mínimo, que foram beneficiados com programas como o Bolsa
Família); (6) a % de trabalhadores informais; e (7) a desigualdade da
renda (medida pelo Índice de Gini).
Ora, este quadro ilumina uma realidade já intuída, mas que – até onde
sabemos – ainda não havia sido rigorosamente demonstrada: o fato de que
a campanha eleitoral de 2018 foi marcada por um confronto de projetos
radicalmente antagônicos no plano do papel do Estado no processo de
inclusão social e enfrentamento/ superação das desigualdades. Por mais
que a mídia conservadora tentasse mascarar a disputa como um confronto
entre “amigos e inimigos da corrupção” (resgatando e requentando o
surrado discurso udenista, que deu sustentação aos golpes de 1954 e
1964) e os liberais de todos os matizes (especialmente daqueles que
militam contra os impostos e a favor de subsídios fiscais para a
promoção de investimentos) vislumbrassem uma disputa entre “políticos
populistas X empresariado meritocrata”, o que estava efetivamente em
jogo era o direito (ou não) dos governos populares utilizarem parcela do
orçamento para apoiar a renda mínima, levar água e luz ao sertão,
facilitar a criação e desonerar microempresas (inclusive individuais),
apoiar a socialização e acesso à educação superior dos descendentes de
escravos, apoiar a inserção social produtiva de pequenos produtores
rurais, índios e quilombolas, dentre outros setores negligenciados há
séculos. Mais importante ainda: os dados coletados e sistematizados para
5.570 municípios do país revelam que, de uma forma geral (e malgrado
exceções) o povo votou de acordo com seus interesses estratégicos. Mesmo
diante de uma situação de absoluta excepcionalidade, determinada pelo
impeachment de Dilma, pelo processo de lawfare que acabou
levando à prisão de Lula, pela imposição de silêncio ao ex-Presidente
(proibido de dar entrevistas pelo STF), mesmo assim, a consciência
popular manifestou-se, não apenas na percentagem expressiva de votos
dados a Haddad no segundo turno (45%) mas, acima de tudo, pelo fato de
que os setores que apoiaram Haddad foram justamente aqueles que os
governos petistas efetivamente apoiaram e contemplaram.
Resultados surpreendentes: a pandemia no Brasil poupou os mais pobres?
Há uma vasta literatura acerca da seletividade regressiva das
pandemias, que atingem de forma mais acentuada a base da pirâmide
social. Esta relação é reconhecida inclusive em publicações de órgãos
técnicos do sistema ONU, afamados pela inflexão predominantemente
conservadora de suas análises (veja-se, por exemplo).
Não obstante, uma leitura superficial dos resultados com os quais nos
deparamos poderia levar à conclusão de que a seletividade perversa da
pandemia não houvesse se manifestado no Brasil. Mas não é disto que se
trata. Senão vejamos.
Quando operamos com uma base de dados municipalizada é preciso
entender que o “indivíduo da amostra” não é um indivíduo real, mas um
coletivo composto, ele mesmo, de grupos e de indivíduos altamente
diferenciados. Um exemplo pode ajudar na compreensão deste ponto.
Imaginemos dois municípios vizinhos: A e B. O primeiro (A) apresenta uma
taxa de analfabetismo de 2% da população total, enquanto B conta com
20% dos domiciliados nesta categoria. O neófito em análise estatística
espacial poderia concluir que “o problema do analfabetismo” é maior no
segundo município do que no primeiro. Porém, esta é uma conclusão
precipitada e se esvai assim que ele é informado que: (1) o primeiro
município conta com 500 mil habitantes e o segundo com apenas 8 mil
habitantes. Os 2% de analfabetos do primeiro município (10 mil
habitantes) conformam uma população superior a todos os habitantes do
segundo. Imaginemos agora que a quase totalidade dos analfabetos do
município A vivem em uma comunidade quilombola que, há anos, vem
solicitando a instalação de escolas de ensino fundamental e ensino de
jovens e adultos no seu interior. Onde, em que território, urge investir
no combate ao analfabetismo?
Trazendo a questão para o nosso campo: quando afirmarmos que a % do
voto em Bolsonaro foi maior nos municípios caracterizados por VAB
industrial elevado e expressiva participação de operários dentre os
ocupados não estamos afirmando que o operariado tenha se tornado base
eleitoral de Bolsonaro. Este movimento até pode ter ocorrido. Ou não. A
desindustrialização em curso acelerado no país, a baixa taxa de
crescimento e a queda dos salários em alguns setores industriais pode
até ter gerado descontentamento entre setores operários que migraram
para um voto conservador. É possível. Mas não é isto que os dados
revelam. Pois não estamos operando com estratos sociais, mas com médias
municipais. E toda a comunidade é marcada por padrões específicos de
estratificação. “Municípios ricos” não são municípios onde todos são
ricos.
Na verdade, é muito provável que as elevadas taxas de contaminação
por COVID em municípios industriais e de alto PIB per capita tenha
atingido majoritariamente os estratos sociais localizados na base da
pirâmide, tal como o operariado. Afinal, este é um segmento que: (1) não
pode optar pelo “trabalho no domicílio”; (2) no longo prazo, aufere
rendimentos superiores aos proporcionados pelo AE; e (3) na grande
maioria dos casos, desloca-se entre o trabalho e a residência em
veículos de transporte público que trafegam lotados no horário de pico.
Assim é que, quando operamos com dados e indicadores sistematizados e
agrupados por critérios distintos daqueles eleitos por nós (variáveis
municipalizadas) o caráter socialmente seletivo do COVID-19 é facilmente
evidenciado.
Por exemplo: em 2020, a taxa de morbidade entre pacientes negros
(42,78%) e pardos (39,22%) hospitalizados foi significativamente
superior à taxa de morbidade entre caucasianos (36,55%) e asiáticos
(36,48%). Enquanto a taxa de hospitalização de pacientes negros e pardos
(4,54% e 34,62% respectivamente) manteve-se abaixo da participação
relativa destes grupos étnicos na população total (7,61% e 43,13%,
respectivamente).
Não obstante, nenhuma destas relativizações anula ou nega dois fatos
importante: 1) o Auxílio Emergencial foi canalizado prioritariamente
para o segmento social e para os municípios que, em 2018, deram a maior
percentagem de voto a Haddad, vale dizer, para aqueles cidadãos que
faziam jus ao mesmo; 2) o AE contribui para o distanciamento social de
cidadãos oriundos dos estratos sociais menos favorecidos. Não se trata
de negar o fato de que parcela dos beneficiados pelo AE não fazia jus ao
mesmo. Trata-se apenas de reconhecer que este não foi o caso dominante.
Nos municípios menores e de economia menos diversificada – vale dizer:
nos municípios onde Haddad alcançou a maior votação em 2018 – o AE
correspondeu a até 30% do PIB e atingiu mais de 60% dos domiciliados.
Não nos parece que caibam dúvidas em torno do impacto desta cobertura
nacional sobre os resultados das eleições municipais de 2020, nas quais
a performance da esquerda ficou aquém das expectativas e a performance
dos partidos aliados e apoiadores do Governo Bolsonaro foi além do
esperado. E o mais interessante é que esta “apropriação política” do AE
não parece ter sido planejada. O AE foi imposto a Jair Bolsonaro e a
Paulo Guedes pelo Congresso, a partir de uma forte mobilização dos
partidos de oposição. E só teve impactos eleitorais expressivos porque,
mesmo após sua imposição, o Governo não lhe deu a devida atenção,
utilizando-se do Cadastro Único (criado em 2001, no governo FHC, mas
disseminado e consolidado nos governos petistas) como principal
instrumento de elegibilidade da cobertura. Vale dizer: o AE teve efeitos
eleitorais justamente porque o Governo não o manipulou
eleitoreiramente. Um dos governos menos republicanos da história da
República, ao subestimar a força política do AE, alcançou o que parecia
impossível: atrair parcela do eleitorado petista, que fora conquistado
pela conversão do Orçamento Federal em instrumento de inclusão social.
Lições para 2022
Desde que Lula saiu da prisão, a conjuntura acelerou-se muito. A
Vaza-Jato deixou claro que os processos e as condenações de Lula não
passavam de lawfare. Todo o Judiciário saiu contaminado da
operação e vem buscando se redimir com o reconhecimento (tardio) da
parcialidade de Moro e o arquivamento de todos os processos que ainda
estavam em curso contra o ex-Presidente. Enquanto isto, Lula é recebido
como Chefe de Estado em diversos países do mundo e o conjunto das
candidaturas que se querem como “terceira via” não conseguem, mesmo
somadas, atingir a intenção de voto em Bolsonaro e, muito menos, em
Lula. Simultaneamente, Porém, a rejeição a Bolsonaro não para de crescer
e já é a mais elevada entre todos os prováveis participantes do pleito
de 2022. Favas contadas?
Do nosso ponto de vista, definitivamente não. E isto por três
motivos. Em primeiro lugar, porque o sistema que alimentou e realizou o
golpe-impeachment de 2016 e a prisão de Lula no ano seguinte é complexo,
forte e muito bem articulado. Ele envolve mídia, Judiciário,
Parlamento, Forças Armadas, grande capital (brasileiro e multinacional),
Embaixadas e Agências de Inteligência estrangeiras e muito mais. Não
podemos subestimar os riscos da frágil democracia brasileira. Em segundo
lugar, porque mesmo que aos trancos e barrancos, Bolsonaro vem
conseguindo se manter no poder e driblar a abertura de um processo de
impeachment.
E, seja por erro de cálculo, ignorância ou omissão, seu governo
realizou um programa de renda mínima que impediu que a economia
soçobrasse em 2020 e garantiu o sucesso eleitoral da direita naquele
ano. Por fim, é preciso entender que qualquer golpe contra a democracia
não precisa ser dado antes das eleições ou da posse do novo Presidente.
Os golpes contra Getúlio, Jango e Dilma deram-se durante o processo de
gestão. Por vezes é mais fácil deixar o adversário “vencer” o jogo, e
dar o bote depois.
E aqui vale lembrar que a crise econômica brasileira é séria e
estrutural. Ela está assentada sobre a desindustrialização. Que vêm se
impondo há anos. Inclusive nos 13 anos de gestão petista. E o esboço de
programa econômico do PT disponível até agora não é muito esclarecedor
sobre como esta questão vai ser enfrentada. Não nos admiraríamos muito
se parcela da intelligentsia anti-petista estivesse, neste
momento, meditando se não seria melhor deixar “Lula levar, mas não
ganhar”. Como Dilma em 2014-2016.
Talvez o aspecto mais alvissareiro do embate eleitoral de 2022
encontre-se no fato de que – ao invés de adotar o padrão de gestão
orçamentária de 2020 – o governo Bolsonaro parece decidido a
administrá-lo “eleitoreiramente” em 2022, atrasando precatórios,
diminuindo os valores destinados à Educação, à Saúde e ao novo programa
de renda mínima, em prol da liberação dos recursos previstos nas
“Emendas do Relator”, negociadas por parlamentares da base bolsonarista
para a compra de votos em distintos currais eleitorais. Este tiro tem
grandes chances de sair pela culatra. Aparentemente, nem a esquerda, nem
a direita, entenderam plenamente o quanto os resultados do pleito de
2020 (bem como os resultados das disputas presidenciais entre 2002 e
2014) foram influenciados pela gestão republicana do Orçamento e pela
inclusão dos pobres no mesmo. Tal como nas relações humanas
intersubjetivas, muitas vezes a forma mais eficaz de conquistar o Outro é
abrir mão dos jogos de sedução e operar no campo da transparência e da
honestidade.
Conclusão
À guisa de conclusão gostaríamos de chamar a atenção para o fato de
que intenção de voto não é realização de voto. De certa forma, é disto
que nos fala as correlações entre a variável-indicador da segunda linha
do Quadro 1 – “% dos votos válidos no primeiro turno” – e as 5
variáveis-indicadores nas colunas do mesmo Quadro. A correlação com
“voto em Bolsonaro” é 0,909 positiva, enquanto “votos em Haddad” é
-0,989 e “% do Valor do AE no PIB” é -0,787. Mais uma vez, parte destas
correlações refletem determinações exógenas, vale dizer, expressam
correlações cruzadas. A percentagem de votos válidos é tanto maior
quanto mais urbana é a população municipal (0,447), menor a taxa de
analfabetismo do município (-0,829) e maior a % de pessoas com nível
superior (0,614).
Ora, já analisamos a sobreposição da clivagem “inclusão X exclusão”
com clivagem “eleitores de Bolsonaro X eleitores de Haddad”. Mas isto
não é tudo. Há uma dimensão especificamente político-ideológica nestas
correlações. Na verdade, o eleitor de Bolsonaro em 2018 era um eleitor
mais “militante”, portador de um grau de crença na necessidade de “mudar
o país pela eleição do Mito” que exacerbava e maximizava sua decisão de
participar do processo de votação. Diferentemente, o eleitor de Haddad
tinha que vencer um amplo conjunto de dúvidas e incertezas derivadas do
bombardeamento da mídia na divulgação apologética da Lava-Jato e na
proliferação das críticas à corrupção petista.
Quer nos parecer que esta diferença entre graus de “convicção” ainda
não foi superada. Ela se fez presente nas eleições de 2020 e deve
retornar nas eleições de 2022. No caso das eleições de 2020, muitos se
surpreenderam com a distância entre as pesquisas de intenção de voto
(até a boca de urna) e os resultados eleitorais. Pelo menos parte desta
discrepância está associada à convicção e ao voto militante: o PT e os
partidos de esquerda neste país ainda carregam sobre os ombros o peso
das campanhas midiáticas negativas que trabalham muito bem com o senso
comum: se a Justiça investiga e prende A e não investiga nem prende Z,
então A é culpado e Z é inocente.
Por isto mesmo, é muito importante entender que as eleições de 2022
não serão definidas pelas intenções, mas pela conquista de um eleitorado
militante, capaz de expor orgulhosamente sua opção político-ideológica.
Até onde podemos perceber, ainda existe um desnível entre o eleitor de
Bolsonaro, que expõe orgulhosamente sua opção pela preservação do status quo
através da utilização da bandeira nacional e das camisetas da seleção
brasileira como símbolos (pretensamente universais e anódinos) de
conservadorismo, e o eleitor de Haddad (em 2018) e de Lula (em 2022),
que já não usa mais suas camisetas vermelhas e suas estrelas com a
desenvoltura dos anos oitenta, noventa do século passado e da primeira
década do atual século.
Este é um ponto que deve ser objeto de reflexão por parte dos
estrategistas políticos: conquistam-se vitórias com adesão e entusiasmo.
Intenções de voto são condições necessárias, mas não são suficientes.
*Carlos Águedo Paiva é doutor em economia pela Unicamp.
*Allan Lemos Rocha é estatístico e mestrando em Planejamento Urbano e Regional na UFRGS.
Nota
[i]
Quando encerramos o levantamento de dados para a construção dos
indicadores de contaminação e morbidade por COVID-19 em meados do ano de
2021 (com vistas à posterior análise estatística e teórica), a
disparidade de taxa de contágio ainda era muito elevada. Nos 100
municípios brasileiros com menor taxa de contágio ela correspondia a
menos de 1% da população, enquanto nos 100 municípios de maior
incidência ela encontrava-se próxima de 20%.
[ii]
Os autores produziram um artigo com a análise global dos resultados, o
qual foi oferecido para publicação nas mais importantes revistas
brasileiras da área de “Saúde e Sociedade”. Para nossa surpresa, o paper
vem sendo recusado sob a surpreendente alegação de que o trabalho seria
irrelevante. Dado que os temas “pandemia”, “eleição de Bolsonaro”,
“desdobramentos políticos e sanitários do Auxílio Emergencial” e as
conexões entre os mesmos são de inquestionável relevância, interpretamos
a recusa como temor de que, seja o Banco de Dados, sejam os testes
estatísticos e os resultados encontrados contivessem erros. Não
obstante, o risco de haver erro nestas bases são mínimos: o Banco
produzido por nós foi disponibilizado, as fontes utilizadas para sua
montagem são públicas e oficiais e podem ser auditadas e os testes são
exercícios simples de correlação passíveis de replicagem por qualquer
cientista social. Ao fim e ao cabo, chegamos à conclusão de que o
problema se encontre no desconhecimento de características da
Estatística Espacial, que complexificam a interpretação dos resultados
obtidos. Por isto mesmo, criamos uma seção específica (a terceira) nesta
versão resumida do trabalho produzido anteriormente voltada ao
esclarecimento de como devem ser interpretados resultados estatísticos
em análises regionalizadas.
Fonte da Imagem: https://www.aquinoticias.com/colunas/dois-brasis/